Meu futuro é hoje

Wlamir relembra histórias do seu passado de jogador de basquete e conta como é sua vida atualmente, na luta para não contrair Covid-19.
O temor de que os alemães chegassem de surpresa, com submarinos, e atacassem o porto de Santos fez com que muitos jovens pracinhas se arrastassem pela calçada em frente à minha casa, em São Vicente, na primeira metade dos anos 1940. Eram exercícios de guerra. Eu, ainda garoto, assistia a tudo da janela da sala, transformada em camarote. Loirinho, já era chamado de Alemão, o que me fazia ter medo de sair à rua durante o dia. Todos detestavam alemães. À noite, ficar em casa era regra. A cidade entrava em blecaute para dificultar o trabalho de eventuais invasores, que nunca se arriscaram.
Jamais imaginei que, quase oito décadas depois, eu fosse novamente me ver em uma guerra, desta vez contra a covid, novamente na minha porta. Aos 83 anos, o tempo não é meu aliado. Vejo o movimento lá fora, pela janela, e dessa vez meu olhar não é de admiração. Por que essas pessoas estão se aglomerando? No grupo de risco, só saio de casa com toda parafernália: máscara, álcool gel, álcool líquido, e tudo que for necessário. Mesmo bicampeão mundial de basquete, nunca fui bom de defesa. Mas até aqui tenho me saído bem na função de defensor de mim mesmo.
Já cheguei a uma idade em que eu não tenho futuro. O que eu posso planejar para o futuro, se eu não sei o que vai acontecer depois? Se eu não sei se eu estarei vivo amanhã? Meu futuro é hoje. E hoje eu estou trancado em casa, vendo Netflix, completando minhas palavras cruzadas, escrevendo meus textos no Facebook. Sozinho a maior parte do tempo, mas vivendo o meu futuro.
O Disco Voador — meu apelido desde o começo da carreira — já não voa. Quando muito, consigo percorrer 50 metros a passos lentos antes de parar para dar uma respirada. No supermercado, me apoio no carrinho e consigo ir um pouco mais longe. Não é que eu sinta dor; eu não tenho forças. Há dois anos, passei por uma cirurgia no fêmur. Segundo o médico, a cabeça do fêmur estava toda esmigalhada. Tenho certeza que é sequela da minha carreira.
Já não consigo mais produzir o sono como antigamente. Não sinto firmeza no tempo, abro os olhos e não recupero mais a sensação da perda, o melhor é levantar e dar mais tempo à razão e ao dia. Acordo entre 5h30 e 6h. Me especializei em ver o sol nascer, a varanda é a minha testemunha. Por sinal, está amanhecendo cada vez mais cedo, acho isso ótimo, detesto a noite.
Estaria mentindo se dissesse que pulo da cama para o banheiro. O fêmur não ajuda. Tomo meus remédios, passo meu café, faço o lanche na sanduicheira. Um relógio digital, presente de aniversário da minha filha Susi e da minha neta Fernanda, me diz em seguida que minha pressão está ótima. O relógio também mede meus batimentos cardíacos e a quantidade de oxigênio no sangue. Estou moderninho e bem de saúde.
Meu lar é a minha vida, meu reduto de luz, sem fantasmas e sem algozes. Vivo a essência que me resta, absorvo o suspiro fumegante da vida, não me entrego, enfrento as agruras de um jogo que não perdoa, mas vou vencendo. A vida ainda me quer, preciso fazer por merecê-la.
Nos filmes de aventuras sempre os mocinhos enfrentam bandidos. Gibis dos meus tempos mostravam grandes heróis. Não sou o Capitão Marvel, nem o Capitão América ou o Super-Homem. Sou apenas um ser humano lutando pela vida, buscando um tempinho a mais no meu futuro.
Sou um dinossauro em fase de extinção, mas que não seja pela covid. Prefiro partir em silêncio, sem deixar rastros ao inimigo. Me entristece saber que depois de 83 anos de vida eu possa sucumbir às vontades de um bichinho feio e mal acabado. Não tenho medo de morrer. O que me apavora é ter que passar por essa situação de ficar em uma UTI, por semanas, meses, para depois morrer.
O morrer é o de menos. Se eu morrer do coração, de repente, beleza. Mas imagina ficar igual o Maguito Vilela, prefeito de Goiânia, que ficou três meses internado e morreu?

Wlamir Marques (o primeiro da direita) é um dos melhores jogadores de basquete brasileiro de todos os tempos.
Atualmente, tenho acompanhado pouco o noticiário. Até porque você liga nos jornais e só se fala de covid e Bolsonaro. Eu não ligo mais, nem ao Jornal Nacional eu assisto mais, porque as notícias não são agradáveis. Prefiro não ficar ouvindo, não saber de nada. Só quero saber quando vou poder tomar vacina.
Eu lembro como se fosse hoje do fim da guerra. Estava na rua brincando quando vi, aos oito anos de idade, a cidade inteira explodindo de alegria. Buzinaços, rojões e gritos de euforia infestavam meus ouvidos, sem que eu soubesse o motivo. Só fiquei sabendo ao chegar em casa. Agora, quando eu puder tomar a vacina, o que vai passar é o medo de pegar covid, de ficar internado. Porque minha vida não vai mudar muito. Sou um homem recluso.
A Netflix tem me feito companhia. Assisto cinco ou seis filmes, ou séries, por dia. Termina um começa outro. Quando enjoo, faço minhas palavras cruzadas. Tenho sempre a mão um livrão de 200 palavras cruzadas, que dura uns 20 dias, um mês. Minha filha ou minha neta, que moram aqui perto, trazem o almoço e no freezer tem comida congelada. À tarde tiro uma soneca e tomo um chazinho da paz. Rotina, não consigo escapar das suas garras.
Nasci em São Vicente, em 16 de julho de 1937. Fui campeão paulista de natação, incentivado pela minha mãe, e praticava atletismo por gosto do meu irmão, competindo no arremesso de peso e no salto em altura. Pegava no gol do Esporte Clube Beira Mar, clube em que meu pai era presidente, e jogava vôlei praticamente obrigado pelo meu tio. Contrariei todo mundo e me tornei jogador de basquete.
Meu primeiro campeonato foi em 1951, aos 14 anos. Meu time, o Tumiaru, foi campeão santista, vencendo o Inter de Santos por 17 a 11. Eu fiz os 17 pontos. Em 1952 já estava na seleção paulista juvenil, e em 27 de novembro de 1953 desembarquei em Piracicaba para jogar pelo XV. Minha mãe só autorizou que eu saísse de casa aos 16 se eu continuasse estudando. Não fui nenhum dia à escola no interior. Nem deu tempo logo fui convocado para a seleção brasileira adulta.
Morava com outro jogador de basquete, o Mané. No caminho para casa havia uma farmácia, cujo farmacêutico, muito simpático, sempre nos cumprimentava. Ia também aos jogos, e levava a filha, a Cecília, que virou minha namorada. Nos casamos em 28 de dezembro de 1957, dia do aniversário dela. Ficamos juntos pelos 58 anos seguintes, até que Cecília me deixou, em 2015. Sinto uma saudade danada. Ficar sem ela é um sacrifício.
Tenho dois filhos. O mais velho, que também se chama Wlamir, nasceu em 22 de dezembro de 1958. Essa história é conhecida. Nós estávamos concentrados para o Mundial, eu pedi dispensa para acompanhar o nascimento dele, mas o Kanela, técnico da seleção, não permitiu. Eu dividia um apartamento térreo com o Amaury e decidi fugir da concentração. Cheguei a Piracicaba a tempo daquela felicidade. Logo, o Braz, assistente do Kanela e meu técnico no XV, chegou com o aviso de que eu estava dispensado. No dia de natal, ele me procurou de novo, porque o Kanela tinha mudado de ideia. Voltei para ser campeão mundial.
Quando a Susi nasceu, eu não pude acompanhar seu parto. Estava em Portugal, mais exatamente em Fátima, durante um treinamento em Lisboa para a Olimpíada de Roma, em 1960. Um repórter da Jovem Pan, Geraldo José de Almeida, que estava a caminho de Roma, foi ao meu encontro para me passar uma mensagem da minha esposa, informando do nascimento da nossa filha. Em Roma, fomos bronze, como seríamos depois, de novo, em Tóquio, em 1964.
Sou bicampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico de bronze. Também fui duas vezes vice-campeão mundial, o que muita gente esquece. Essas conquistas me fazem o jogador mais laureado do país, porque o Amaury, ao invés de dois vices, tem um vice e um bronze.
Chegamos praticamente juntos à seleção e somos grandes amigos até hoje. As diferenças de conquistas se dão porque eu não fui ao Mundial de 1967, que o Brasil foi terceiro colocado. Eu era técnico da equipe feminina de Piracicaba e precisava honrar o compromisso com o time de Maria Helena e Heleninha. Em um fim de semana, avisei ao Kanela que não poderia ir a um jogo exibição em Araçatuba, porque tinha um jogo importante com o XV em Santo André. Quando a seleção chegou em Araçatuba, os repórteres o pressionaram, e o Kanela disse que eu havia sido cortado. Só soube depois, por um repórter amigo.

Wlamir mora sozinho atualmente e ficar na varanda do apartamento é um dos seus passatempos prediletos.
Já o Amaury não foi ao Mundial de 1970, em que fomos vice-campeões. Eu também não pretendia ir e dei como desculpa que a Cecília não estava bem e precisava ficar com ela. Faltando pouco tempo para o Mundial, o Wadih Helu, que era presidente do Corinthians e chefe da delegação, disse que se então o problema era esse, o Corinthians pagava a ida dela ao Mundial para me acompanhar. Nesse Mundial, vencemos a União Soviética e os EUA, mas acabamos atrás da Iugoslávia.
Não me arrependo de nenhuma das minhas decisões enquanto jogador, com uma exceção. Hoje, acho que deveria ter ido à minha quinta Olimpíada, em Munique. Fui convocado para ser jogador e assistente do Kanela, mas eu já estava no segundo ano da faculdade de Educação Física e não queria perder o ano. Deveria ter ido, lógico que eu não iria ser reprovado estando a serviço da pátria.
Fiz muitos amigos no basquete, mas faz 20 anos que o Oscar não fala comigo. Por uma coisa boba, uma ignorância muito grande da parte dele. Eu fui em um Bola da Vez, em 2001, e não sei quem me perguntou se o Oscar jogaria com a nossa geração.
Disse que não, que ele não jogaria da forma que ele jogava, porque não tinha bola de três pontos. Com 2,04 metros ele seria o mais alto e teria que jogar de costas para cestas, marcar o pivô deles, pegar o rebote e jogar rápido para a gente armar o contra-ataque. Mas é lógico que jogaria, com 2,04, seria até titular.
Mas teve um ex-técnico dele, o Cláudio Mortari, que contou a ele que eu disse que ele não jogaria na nossa seleção. No dia seguinte encontrei com Oscar, ele virou a cara e nunca mais conversou comigo. Eu mandei uma carta explicando tudo isso, mas ele não levou em consideração. O Oscar é ele e acabou. Por isso não tem amigo nenhum no basquete, nem quem jogou com ele. A amizade dele não me faz falta.
Aos 83 anos, sigo um comentarista de basquete. Por causa da covid, não tenho feito transmissões, mas a ESPN renovou contrato comigo em julho. Eles não querem colocar em risco as pessoas da emissora com mais idade. Quero voltar quando estiver apto, vacinado.
Eu gosto do que eu faço, mas também trabalho porque eu preciso desse dinheiro. Não fui profissional. Tenho uma miséria de aposentadoria do INSS, depois de anos trabalhando nos Correios e como professor de educação física. Como jogador, vivi a era do amadorismo marrom. Oficialmente, éramos amadores. Na prática, não, porque ganhávamos algum pouco dinheiro. Não o suficiente.
Quando me casei, precisava manter a casa, e o basquete pagava só uma ajuda de custo. Pedi que me arranjassem um emprego. Um dia fui ao Rio encontrar um deputado, que me levou no Catete, e lá arranjei um emprego nos Correios. Trabalhava meio período: um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite. Quando coincidia de o jogo ser no dia do turno da noite, eu tinha que pagar alguém para trabalhar no meu lugar.
Quantas vezes, já em São Paulo, eu saía do trabalho, no Anhangabaú, passava em casa, pegava a minha esposa, e ia para o Pacaembu jogar pelo Corinthians? Aqui eu trabalhava como telegrafista, montava telegramas, mas eu aprendia tudo rápido, então acabava fazendo de tudo: ficava em guichê, vendia selo, recebia correspondência, dividia as cartas entre as caixas postais. Mesmo sendo, já naquela época, bicampeão mundial.
Por causa dos compromissos com a seleção, tive cinco ou seis processos de abandono de emprego. Quando voltei da Olimpíada de 1968, tinha mais um me esperando. Aí eu pedi para abandonar aquilo de uma vez. Ao mesmo tempo, assumi a responsabilidade de montar um núcleo de basquete em um centro esportivo da zona norte de São Paulo.
Temos uma geração que foi bicampeã do mundo. Somos em 18 campeões, dos quais dez estão vivos. Quando o Kobe morreu, todo mundo fez homenagem — e quem não vai prestar homenagem a ele? — mas no Brasil não foi feito nem 5% disso quando morreu o Rosa Branca, o Edson Bispo, o Algodão…
Eles são campeões do mundo, mas ninguém nem sabe. Quando recentemente morreu no Rio o Waldir Boccardo, fui comentar um jogo do NBB pela ESPN, e eu tive que pedir para o juiz parar e fazer um minuto de silêncio. Se não fosse isso, não iam nem lembrar. Ele foi campeão do mundo, poxa.
Pelo fato de eu estar na TV, meu nome é ainda ativo. Mas você já ouviu falar no Pecente? Pergunta no basquete quem é o Pecente, vão achar que é uma fruta. Pergunta quem é o Algodão. As pessoas não sabem, porque não é publicado. Só se vê futebol na televisão. Fazemos basquete até por teimosia.
* Matéria do UOL


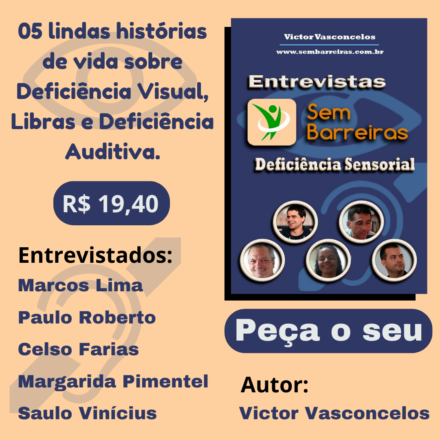

Sem nenhum comentário