Negra, alta e black power, Alessandra foi salva pelo basquete

Alessandra quando era bebê, com o pai e com a mãe, na praia.
Em novembro, fui apresentar meu projeto no Mestrado. Para chegar no meu projeto, eu tinha que apresentar minha história de vida. No dia da apresentação, liguei para minha irmã às 6h da manhã. Ela mora na Itália. Ela desabou. Temos mais de 40 anos e nós nunca tínhamos conversado sobre isso. Apresentei o trabalho mal, pensando que magoei minha irmã. Mas, é a nossa história, é a nossa vida.
A gente tinha uma condição boa quando eu era bem criança. Morávamos em apartamento próprio e tinha até televisão! Meu pai trabalhava na Corretora de Valores, apesar de ser negro. Antes, ele pensava em ser padre, então falava latim, falava três línguas. Conseguiu um emprego bom. Minha mãe era manicure. Quando eu tinha quatro anos, ela ficou grávida da minha irmã. E, um dia, ela caiu dentro de casa.
Fui morar com a minha avó. Não sei quanto tempo minha mãe ficou internada e aí fomos buscar minha irmã. Eu falava que não queria minha irmã, queria buscar minha mãe. Fiquei chorando, esperando minha mãe toda noite. “Foram praticamente dois anos achando que minha mãe ia voltar e ninguém me falava que ela tinha morrido. Só descobri que minha mãe morreu quando minha avó morreu. E aí começaram as diferenças”, lembra. A minha família é uma mistura. Meus avós são filhos de escravos com índios, mas, na terceira geração, já tinha loiro de olho azul. Você é negra e um primo é loiro. Ele chega e fala “você não tem mãe”. Não foi fácil. Eu tive que aprender a me defender muito cedo.
Meu pai se casou de novo quando minha irmã tinha dois anos de idade. Nós voltamos a morar na Bela Vista, pensei que ia ser legal voltar à região central de São Paulo. Mas, ela não gostava de nós. Eu apanhei horrores. Eu era empregada doméstica dela. Quando minha madrasta ficou grávida, eu escolhi o nome, Adriana. Mas a menina morreu cinco minutos depois de nascer e minha madrasta começou a definhar. Morreu um ano depois. E eu fui morar com meus tios.
Naquela época, meu pai adotou um menino. Dizem que era filho dele com outra mulher, eu não sei. Eu tinha que limpar a casa porque não tinha mãe, porque eu era indisciplinada, porque não ia ser ninguém na vida. Era isso que ouvia. E eu era terrível, admito. Passei a fugir de casa, rodar São Paulo inteira de ônibus. Hoje, entendo que eram respostas ao que eu não tive. Eu estava procurando algo que não tinha dentro da minha própria família. Ganhar presente de Natal não é apoio de família. “Quando eu tinha uns sete anos, eu sofri racismo pela primeira vez na rua. Na escola. Era uma menina branca, de cabelo loiro, liso, até a cintura. Ela me chamou de macaca negra. Eu peguei a carteira de fórmica e taquei nela. Foi o jeito que eu tive de me defender sozinha. Fui expulsa da escola. Cheguei em casa e apanhei horrores”. “Eu fui expulsa da escola, queria o quê? Passei por cinco colégios até começar a treinar basquete. Um dia, estava na casa de um; outro, na casa de outro. Então, não parava em escola alguma. Não tenho amigos de colégio. Às vezes, alguém me encontra na rua e fala que foi meu amigo no colégio. Mas, infelizmente não lembro. Cada ano estava num lugar”.
Meu pai arrumou outra mulher, outra madrasta. Essa foi um inferno. Sabe a megera da Cinderella? Aquilo existe. O povo acha que é fábula. Mas, eu tinha que limpar toda a casa. Ela tinha uma filha mais velha, mas tratava eu e meus irmãos diferente. A filha dela tinha tudo, mas eu e meus irmãos passávamos frio na casa em que fomos morar em Jabaquara. Aí eu fugi mais vezes e uma tia viu que tinha algo errado e me levou para morar com ela. Depois de um ano e meio, meu pai se separou dessa mulher. Fomos morar com uma tia que tinha se separado e tinha um filho. Eu já jogava basquete, tinha começado em um projeto da prefeitura, atrás da USP. Jogava basquete e vôlei. Nessa época, a nossa vida estava mais ou menos boa. Mas, aí meu pai teve um infarto fulminante e morreu. Eu tinha 14 anos. Foi um inferno. Fiquei sendo jogada na casa de um, de outro.
Houve um problema no INSS, sumiram com a carteira profissional do meu pai. Ficamos quase um ano sem receber pensão. Foi duro. “E, nisso, dentro de casa, comecei a ouvir: ‘Você tem que largar o esporte, você não tem pai e nem mãe, você vai virar vagabunda, prostituta, esporte não leva a nada’. Fiz curso de datilografia, depois de manicure, trabalhei de babá… porque eu tinha que fazer dinheiro. Até que arrumaram um teste para eu fazer em Piracicaba. Esse dia mudou minha vida: 13 de junho de 1989”.

A primeira equipe de basquete de Alessandra: ela era a única atleta negra, no círculo.
Salva pelo basquete – Eu fui para Piracicaba, passei no teste e fiquei. Ganhava uma ajuda de custo. Estava no Ensino Médio, no segundo ano de magistério, para ser professora, porque tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro rápido, né? Eu treinava o dia inteiro, 8h por dia, e estudava à noite. O esporte me salvou. Não foi a questão de ser jogadora de basquete, mas de tudo. Me educou.
Eu fiquei um ano em Piracicaba. Fui para Jundiaí em 1990. Em 91, eu já estou na seleção brasileira juvenil. Minha irmã foi para lá. Eu nem sabia se ela gostava ou não de jogar basquete. Falei que minha irmã tinha 1,80m e 11 anos, falaram para levar. Ela foi jogar numa categoria sub-12. Era para sobreviver, né? Nisso, a nossa vida foi melhorando. O esporte me poupou de muita coisa. Quando eu saí de São Paulo, no fim dos anos 80, o crack estava chegando. Lembro de um amigo de colégio falar que chegou uma coisa muito louca, boa pra caramba. Não sei quantos estão vivos. Os que não morreram viciados morreram pela polícia ou foram para a Febem. “Se você não tem apoio em casa, como sai desse cenário? O basquete me fez ter uma profissão, deixar de escutar todo dia que eu era vagabunda. Treinei mais de 10 anos por 8h por dia. Todas as broncas que levei dos treinadores e jogadoras mais velhas, eu não reclamo. Porque me protegeram de um monte de porcaria. Penso nos meus primos. Tenho primo que foi preso por roubo de carga, marido de prima que foi preso por não sei o quê… o esporte me protegeu”.
Eu acho que eu tive sorte porque nunca percebi nenhum racismo no ambiente do basquete. Nem de adversário nem de torcedor. Não sei se eu já tinha sofrido tanto dentro da minha própria família e ali estava tão focada em mudar meu contexto social que isso passou despercebido. Isso em quadra. Porque fora, sim. Socialmente, sempre enfrentei. E aqui no Brasil sempre foi muito pior do que no exterior. Eu fui embora para jogar em 1997 e voltei em 2012. Morei em dez países, fora os que visitei jogando e a turismo, e falo: no Brasil, é incrível o preconceito velado. Muitos tabus e paradigmas não foram cortados da nossa cultura. Tem hora que penso que estamos no século 17. E não falo pelo esporte, mas perante o social. “Sofri mais racismo aqui do que na Europa. E olha que eu morei o início dos anos 2000 no Leste europeu, nem 10 anos depois da queda do muro de Berlim. E, em cidades pequenas, de vilarejo, em que eu era a única negra num raio de não sei quantos quilômetros”.
Meu primeiro país de Leste da Europa foi a Eslováquia. Em 2001, eu fui para Ruzomberok. Nunca tive problema, fui muito bem aceita na cidade, faziam tudo para mim. Eu dirigia para cima e para baixo porque sou louca por montanhas e castelos. Acho que visitei mais de 100 castelos entre Polônia, Eslováquia e República Tcheca. Eu ficava rodando, me sentia livre, mesmo com neve. Com as crianças, tinha curiosidade. Tinha criança que queria passar a mão em mim para ver se eu era de chocolate. Os pais ficavam envergonhados, pediam desculpas. Na Coreia do Sul, também passei por algo parecido, crianças querendo ver se eu era de verdade. Elas querem tocar. É curiosidade porque algumas nunca tinham visto um negro. Mas, isso não é racismo, é curiosidade. Lá, nunca ouvi uma piada, comentário de mal gosto. Nada.
No Brasil, sofri muito no Nordeste. Quando eu voltei, fui morar em Recife, sofri racismo e muito machismo. Você ir num bar e ser puxada pelo braço, como se o homem fosse o seu dono. Aqui, em São Paulo, outro dia sofri de um motoboy. Ele estava na contramão, quase me atropelou, e ainda falou: “Sua preta”. Eu tenho orgulho de ser negra e dele eu tenho pena.
Negra, alta e black power – “Eu não tenho como passar despercebida. Meu pior problema: negra e alta. ‘Tadinha, é alta demais’. ‘Coitada, vai sofrer'”. Quando eu era criança, minha melhor amiga era minha tia mais velha, que tinha Síndrome de Down. Eu achava que ela tinha a mesma idade que eu porque éramos do mesmo tamanho. Só depois fui saber que eu era mais nova. Como eu era muito grande, me colocaram na escola mais cedo. Fui alfabetizada com cinco anos. Eu novinha rodava São Paulo toda de ônibus e ninguém estranhava.

Alessandra, a mais alta, juntamente com Adriana dos Santos, Adrianinha e Janeth (da esq para a dir), nas Olimpíadas de Sidney, em 2000.
Eu sempre fui bem resolvida quanto à minha altura. Mas, vira e mexe ainda escuto alguma. Num campeonato máster de basquete, escutei um cara falando. “Olha, ela é tão bonita, mas é tão alta, né?”. Virei e perguntei qual o problema dele, se já tinha se olhado no espelho. É muito indelicado falar esse tipo de coisa. Uma mulher não pode ser alta? Não pode ser gorda? Me falaram que fui rude, mas não sou obrigada a escutar um negócio desse no século 21. Outro dia, no vagão do metrô, de noite, na linha azul, escutei um homem falando: “Nossa, é muito alta. Não deve encontrar homem nenhum”. Quando abriu a porta na estação, falei para ele sair do vagão, ter respeito com as mulheres ou íamos parar na delegacia. De novo. Não sou obrigada a ouvir isso no século 21.
Eu não tenho foto, mas meu cabelo, quando eu era criança, era black power. O cabelo era bem crespo e foi crescendo até ficar na cintura. Aí minha mãe morreu, minha avó morreu e quem ia pentear? Cortaram meu cabelo. Eu chorei muito no dia em que fiquei sem o meu cabelo. Depois, chegou na adolescência, eu deixei crescer um pouco, mudei de cor. De química, para ficar com o cabelo todo liso, liso, liso, eu nunca gostei. Eu fazia para segurar a raiz quando eu estava jogando, mas não usei química muito pesada. Até porque, se você vir as fotos, eu sempre estava com o cabelo esvoaçado, até hoje. Teve uma época na seleção em que eu estava de aplique.
Há três anos, eu tive alopecia nervosa (Alopecia areata é uma condição caracterizada pela perda de cabelo ou de pelos em outras partes do corpo (cílios, sobrancelhas, barba) em formatos arredondados ou ovais) e perdi meu cabelo. Agora, graças a Deus, está grande de novo e não estou passando nada. E estou deixando ele crespo. Só não tenho usado solto por causa da Covid. Tenho andado mais de coque e ainda passo álcool em aerossol quando saio para algum lugar. Mas, ele está crespo de novo, como antes.
Nos EUA, negra de segunda classe – Os jogadores de basquete dos Estados Unidos se uniram esse ano para tentar deixar um legado social. Eles estão certíssimos. O racismo americano é estrutural e está enraizado como o nosso, desde a colonização. Para mim, os EUA são o país mais racista do mundo devido à segregação racial enraizada na sociedade. “Na rua, eu passava por americana por causa do meu porte. Mas, no começo, quando alguém conversava comigo, via que eu não falava inglês direito. As pessoas não tinham paciência quando eu pedia para repetir. Perguntavam de onde eu era e, quando falava que era do Brasil, ouvi me chamarem de negra de segunda classe. Eram negros falando isso! Quantas vezes você acha que eu escutei isso”?
Os jogadores de basquete viram os pais sofrerem racismo, os avós sofrerem racismo e quiseram dar um basta. Nós não conseguimos ainda pôr ordem na nossa sociedade. Nos EUA e na Europa, há um esforço para se deixar um legado social. A questão do ídolo é muito distante no Brasil. Quando aconteceu toda a manifestação nos EUA, eles foram para a rua lutar, independentemente da pandemia. Queria ver quantos no Brasil iriam na Avenida Paulista. Fica difícil. E esse legado que vão dar para os filhos e os netos? Eles estão querendo mudar. Será que nós, classe atlética brasileira, estamos querendo mudar? Será que não podemos nos juntar?
Fiquei muito preocupada com os atletas na pandemia. Como estão vivendo os que estão sem time? Os que estão em início de carreira? E se tiverem Covid? Até agora não saiu o auxílio para atleta. Já pensou agora, depois dessa pandemia, como vai ficar o esporte no Brasil? E o esporte feminino, que tem muuuuuuuita dificuldade de patrocínio? Ninguém sabe quando vai acabar a pandemia. É difícil. Como eles se envolveram foi muito bom, é importantíssimo isso. “Mas, há uma coisa que me deixa indignada. Vidas são vidas, independente do lugar no mundo. A gente se comove pelas mortes americanas, mas e as brasileiras? Em periferias, sempre têm negros mortos por policiais. Tem gente que fala que na nossa sociedade isso é normal. São quantas pessoas que falam sobre isso na internet? Temos que lutar também na nossa casa, não só pensar o que está acontecendo nos EUA”.
Aqui, me preocupo muito em melhorar nossa representatividade feminina no esporte. Eu sou professora hoje, já dei aula em escola pública e particular. O que vejo é que as meninas não têm uma representante para dizer que querem ser como ela. O meu sonho não era ser jogadora, era ser antropóloga. Eu passava na frente da USP, via na placa aquela palavra linda, imponente, e queria ser antropóloga. Mas, foi o esporte que me abriu as portas.
Me preocupo principalmente com as meninas de periferias, independentemente de serem negras ou brancas, porque são as que mais vão sofrer com a violência, com as dificuldades de ir para a escola. Algumas têm que parar de estudar para tomar conta dos irmãos, precisam cuidar da casa, e quando vão ver, com 19 ou 20 anos, já estão com filho. Não falo nem pelo alto nível, mas pela prática esportiva em si. Isso me deixa muito triste.
* Alessandra Santos de Oliveira tem 47 anos e defendeu a seleção brasileira feminina de basquete por quase duas décadas. Foi campeã mundial em 1994, prata nas Olimpíadas de Atlanta 1996, bronze em Sydney 2000 e quarta em Atenas 2004. Abaixo ela relata o que viveu Na Pele.
** Depoimento dado a Helena Rebello, do Globoesporte.com


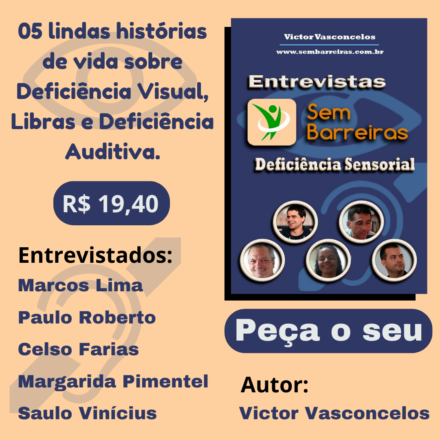

Sem nenhum comentário